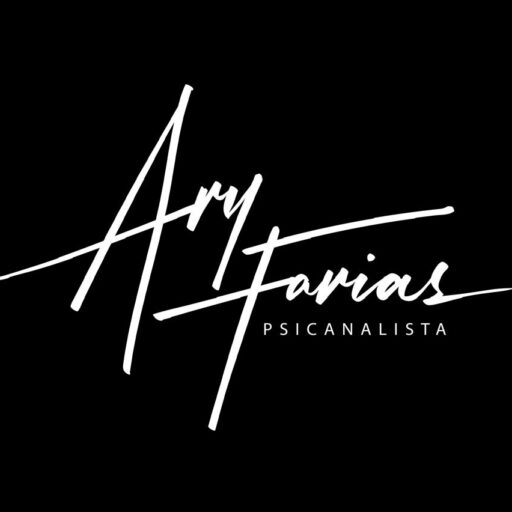Fevereiro 7, 2025
O lugar onde se nasce quase sempre se torna um significante primordial na história do sujeito. Será, em muitos casos, um fator importante no que se estabelecerá posteriormente no destino de um homem.
Em 1960, o escritor peruano Mario Vargas Llosa, ao visitar a Irlanda, surpreende-se com a cidade de Dublin. Antes, Llosa percorrera imaginariamente a Dublin de James Joyce através de sua obra, sobretudo pelas páginas dos contos em Dublinenses, onde o autor descreve cenas da vida cotidiana irlandesa, retratando uma cidade sombria, casmurra, habitada por pessoas ocupadas em frivolidades e de inteligência acanhada. Ao desembarcar em Dublin, Llosa depara-se com o inverso: um povo alegre, afeito ao diálogo e numa cidade que lhe pareceu jovial e clara.
a cidade, a escrita e os corpos ‘problemamoroso’¹
Ary Farias
EBP/AMP
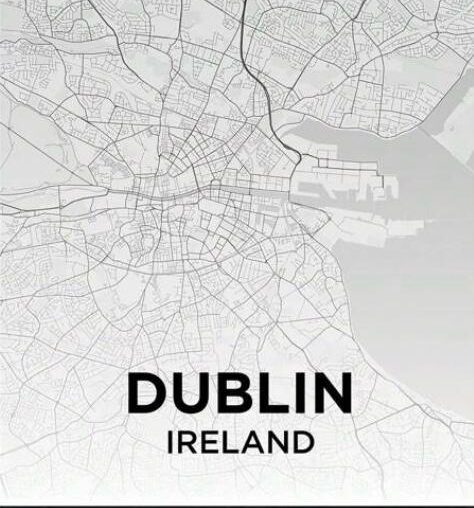
James Joyce foi um irlandês sempre insatisfeito com sua nacionalidade. Manteve, ao longo da vida, um protesto vigente ao colonizador, uma espécie de rancor contra a invasão da Irlanda, sobretudo da língua inglesa, que praticamente silenciou o gaélico, a língua-mãe. A Irlanda se estabeleceu como um ponto de recusa e, ao mesmo tempo, necessidade de afirmação patriótica. A cidade de Dublin figurou como uma espécie de referência geocêntrica na escrita de Joyce. Essa ambivalência o acompanhou por toda a vida. Dublin foi uma cidade-personagem na produção literária de Joyce. Ela foi o cenário minucioso onde se ambientou o que é tido como sendo o maior romance do século XX – Ulisses.
Foi em Dublin, em 16 de junho de 1904, nesse único dia, que Leopold Bloom, o anti-herói de Ulisses, empreende sua perambulação pelas ruas, praças e vielas da cidade e, no que o faz, rumina suas angústias e dilacerações amorosas encharcadas de ciúmes e ressentimentos. Empreende uma aventura por meio da qual descreve a experiência do amor pela via do desencontro e da infidelidade. O romance de Joyce é uma paródia fina, irônica, ao épico grego Odisseia, de Homero. Nele, Joyce compõe um protagonista demasiadamente humano, um herói sem predicados, cuja única bravura seria a de sustentar o desejo por uma mulher na tormenta de um saber que não se cala: ‘‘[…] cada um que entra (na cama) se imagina ser o primeiro a entrar enquanto ele é sempre o último termo de uma série precedente mesmo se ele for o primeiro termo de uma série subsequente, cada um imaginando ser o primeiro, o último, o único e exclusivo enquanto ele não é nem o primeiro nem o último nem o único nem o exclusivo numa série originada ali e repetida ao infinito.”²
Joyce anunciava o homem do século XX, agora deposto das velhas certezas da tradição masculina.
Por outro lado, Molly Bloom – aquela que encarna a antípoda de Penélope e seu amor paciente e virtuoso – sabia a não-relação-sexual, a contingência do amor, seus matizes e astúcias e também das concessões de que uma mulher é capaz de sustentar na experiência amorosa. Molly, uma fêmea amoral, fertilizável, inconfiável, perspicaz, aquela que sabia mais sobre os homens e sobre a vida quando tinha quinze anos do que todas as outras sabem aos cinquenta, traduz o infinito do gozo feminino: ‘’Eu sou a carne que sempre diz sim.”³
A data escolhida por Joyce para gravar a lembrança dessa odisseia corresponde ao dia em que, pela primeira vez, ele saíra para um passeio com Nora, seu amor parceiro-sintoma na vida real. O dia da ‘’sorte do acidente apropriado”⁴, o encontro de Joyce com o amor. Joyce recorre ao termo “epifania” para descrever o efeito no corpo, resultante desse primeiro encontro avassalador, de “descarrilamento da consciência”, segundo Hélène Cixous⁵. Desde então, Nora Barnacle ocuparia um lugar de privilégio na vida mental do escritor, sendo o endereço constante dos arroubos apaixonados e pornográficos por parte de Joyce. Soube-se posteriormente, pelas suas cartas, que Nora trazia em si certos traços de sedução e vertigem lidos em Molly Bloom. Conclui-se que Joyce experimentou também fora da literatura o tumulto do encontro com uma mulher.
Em sua obra maior, Finnegans Wake, assim como Ulisses, Joyce escreve um romance não confinado aos parâmetros da decência e que traz a marca da ruptura com a ‘’era da representação’’ e apresenta a “literatura do significante”⁶.
Ao assombrar o mundo literário com a apresentação de uma obra sem variáveis comparativas, numa produção textual próxima de uma prestidigitação verbal, Joyce transgride com a identidade fonatória das palavras, salientando apenas os jogos sonoros em detrimento da lógica e da tradição do sentido.
Em Finnegans Wake, o modelo insólito de apropriação significante, inaugura um novo fazer com a palavra, que agora, apartada do sentido, já não mais se presta a revalidar os velhos conceitos da tradição da língua, e sim, fundam o que Haroldo de Campos viria a denominar a “era da textualidade”⁷.
Livre do entorpecimento dos sentidos gastos, Joyce tem com a palavra um trabalho de artesão num processo de interpenetração constante entre os vocábulos, num fazer de progenitura com as palavras. Em certo sentido, Joyce é o pai do significante, uma vez que o submete a uma lei própria, livre do fastio e domínio dos conceitos derivados do Outro e, sobretudo, afastado dos seus destinos prévios e/ou coletivos.
Excluso o sentido e a consequente intenção de laço e de compreensão, a escrita de Joyce surge então como resultante de uma prática solitária, singular e irrevogável: uma prática de gozo. Ele faz uma retroação da palavra à sua mera estrutura de som. Sua escrita, portanto, parece responder mais aos apelos do corpo-gozo do que aos cálculos da razão incluso nas interações multidiscursivas. Desse modo, o verbo enquanto veículo propagador de sentido e laço faz concessão integral à materialidade fonética enquanto tal. No seu Finnegans Wake, o Outro é exonerado da sua função de ordenação simbólica do sujeito. Sua aparição, quando ocorre, acontece apenas enquanto efeito colateral. Cacos que o leitor possa juntar dos ruídos das palavras francamente heterogêneas dissolvidas em sintaxes insólitas.
O Outro em Joyce pode ser apoucado à condição de um mero resíduo?
Lacan⁸, no Seminário 23, O sinthoma, indagou o ofício de Joyce por outra vertente. Perguntava se esse estilo de fazer com as palavras era um modelo de defesa ou um modo de se deixar invadir?
Em Lacan, Joyce é o Sinthoma. Sem que soubesse disso, ainda seguindo Lacan, Joyce foi um homem de savoir-faire, condição inerente àquele que é chamado de artista.
Tido como sendo aquele que sabe, com algum estilo, algo sobre o seu modo de gozo, o artista atesta, com seu corpo e sua arte, que o Outro é uma inconsistência, ainda que necessário.
Em sua escrita marcadamente desancorada da autorização do Outro, Joyce ressoa só. Ele é Um. O leitor, ainda que pense acompanhá-lo, só encontra os rastros do que fora antes corpo e solidão.
Ainda que tenha prescindido de Freud e da psicanálise, nenhum outro literato chegou tão antes e tão longe na expressão da estrutura subjetiva do homem quanto Joyce. Sem saber, ele promoveu o significante à função de puro gozo e, por efeito, rascunhou o real no limite, na orla do que se pode capturar com a língua.
Ao auscultar as palavras longe da rotina dos sentidos prévios, Joyce é a própria sintomatologia, como pôde observar Lacan⁹ em Outros escritos. Na opulência significante, faz evidência do falasser em sua plenitude errante e sem Deus.
A letra, A mulher e a Urbe – a trindade significante em que Joyce se apoiou para suprir e fazer invenção ao que se mostrava frouxo nos registros RSI. Joyce, com seu corpo, foi a arena viva da irrupção selvagem do significante. Seu feito inigualável foi produzir lirismo justamente ali onde poderia se inscrever o trágico.
¹JOYCE, James. Finnegans Wake. Tradução: Donaldo Schüler. 2. ed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. v. 2, p. 32.
²JOYCE, James. Ulisses. Tradução: Bernardina da Silveira Pinheiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 781.
⁴ Ibidem, p. 11.
⁴JOYCE, 2004, op. cit., v. 4, p. 135.
⁵JOYCE, James. Epifanias. Tradução: Piero Eyben. São Paulo: Iluminuras, 2012. p. 19
⁶AMARANTE, Dirce Waltrick do. Para ler finnegans wake de James Joyce. São Paulo: Iluminuras, 2009. p. 66.
⁷Ibidem.
⁸LACAN, Jacques. O seminário, livro 23: O sinthoma. (1975-1976) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Tradução: Sérgio Laia. Revisão: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
⁹LACAN, Jacques. Outros Escritos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.