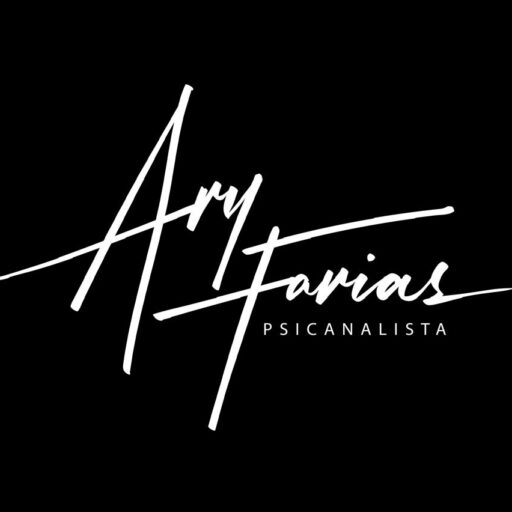Janeiro 8, 2025
A memória é mulher
Ary Farias
EBP/AMP

A história do homem corresponde à história do corpo. O mítico batismo pela palavra, quando o inescrutável S1 fez leito e marca d’água na carne, instituindo o discurso e, por efeito, fundando os estatutos de linguagem do Outro. O ecossistema do falasser é eminentemente linguagem. Nesse contexto, a palavra é a manjedoura do homem, o ponto de cisão, de desnatura biológica e vacilo da regularidade natural pautada pelo instinto. O falasser, portanto, é essa escultura de sentido e gozo produzido pela maceração do símbolo na esteira contínua das imagens.
Não há entre o falasser e seu corpo, a priori, uma relação de pertinência e harmonia natural; trata-se antes, de um caso de adoção imperativa: ter um corpo. Uma operação simbólica não fomentada pelo sujeito, antes um jogo, um ambiente simbólico, onde ele deve tomar seu lugar e decidir aí sua sexualidade na desordem fundamental do reino pulsional. Um corpo formalizado a partir de quatro pontos cardeais em psicanálise: gozo, verdade, semblante e mais-de-gozar. É nessa trama de forças difusas, nessa areia movediça, que um corpo deve ser capaz de se articular e se sustentar frente ao impossível, ao incapturável, ou seja, o real e suas irrupções sempre revogantes.
A memória e a pedra
A pedra é sem memória, sem registro, embora o homem possa ler, por conta e risco, algo da bula geológica ali. No entanto, ela, em si, é extraída de qualquer intencionalidade de comunicar algo a alguém. Tem uma presença sem anseio, calcada em sua imobilidade e silêncio inerentes. Não à toa, desde a Idade Média, é matéria de alvenaria dos sepulcros.
Drummond, fatigado pelos deveres da existência, a localiza no meio do caminho. Derrama então sobre ela seus argumentos líricos. Ao final a pedra reluz no mesmo lugar. A pedra, sem conhecer a histeria, sustenta-se com sua indiferença mineral. A pedra não se dobra ao poema.
Por outro lado, a memória é um fator pertinente ao vivente. Toda experiência da substância viva tem potencial de transformação tal, que ela não reagirá mais à experiência do mesmo modo que antes. A memória, portanto, é um processo de integração, ou seja, é aquilo que se adiciona como pré-condicionamento ao repertório de leitura, interpretação e resposta às experiências futuras. Acaso não houvesse memória celular e regras estabelecidas de fluxo e colaboração entre os órgãos, como poderíamos compreender o reequilíbrio do organismo num processo de homeostase? No entanto, não será por essa via que avançaremos. O que efetivamente diverge e nos interessa é o que tomaremos por rememoração, ou seja, quando o que nos retorna decorre de matéria eminentemente simbólica. O processo de rememoração tem marcada prevalência e afinidade com a palavra, aquilo que Lacan apontou como “empilhamento de engramas”¹, ou seja, traços ou marcas duradouras na subjetividade do falasser, vincos mnêmicos. É com esse agrupamento e sucessão de acontecimentos simbolicamente engendrados e definidos com os quais lidamos num processo analítico, é disso que se trata. Lacan chega a apontar, no Seminário 7, a consubstancialidade existente entre inconsciente e memória: “[…] no homem, chamamos de inconsciente, isto é, a memória do que ele esquece”². Portanto, a imagem mnêmica, necessariamente, decorre de um agenciamento do significante. No sentido contrário, ou seja, do recalque, também é sobre o significante que incide a força opressora. O recalcado contém em seu núcleo duro, de inflexão à palavra, de recusa a qualquer construção de sintaxe, a ideia mórbida que o falasser trata com a analgesia do esquecimento.
A memória na literatura
O homem carrega em si o nefasto saber de uma experiência projetada, certa e cabal: a morte.
Diante disso, escrever é um dos atenuantes com o qual busca tratar dessa evitação impossível. Por isso temos a literatura, essas cápsulas de delírio e imaginação que ingerimos para amainar algo desse descalabro que será a finitude de todos e cada um. Ela é um recurso que serve para qualificar a desesperança humana, uma estética ética.
Nessa mirada, trago dois fragmentos literários que podem ilustrar, minimamente, a conjunção entre memória, corpo e os destinos do sujeito.
Em Leite derramado, Chico Buarque bota luz e voz num certo Eulálio Montenegro d’Assumpção, um sujeito que, no sol poente de seus 102 anos, rema com sua memória os últimos momentos antes do abismo da morte. Sua potência é inteiramente memorial, visto que se encontra obstruído num leito hospitalar. Dali, com sua rememoração, reconta seu mitema e delira seus amores passados e as proezas fálicas com as quais ancorou sua virilidade. O que não o impede, ainda num lampejo de lucidez, de atualizar sua condição de naufrágio: “E qualquer coisa que eu recorde agora, vai doer, a memória é uma vasta ferida.” ³.
Noutra cena, Gabriel Garcia Márquez, em Memória de minhas putas tristes, também constrói uma personagem que encontra em suas rememorações o último verniz para uma vida que já sente de perto os bafejos da morte. Trata-se de jornalista solitário, um homem “de raça sem méritos nem brilho”⁴, que no dia dos seus noventa anos resolve se dar de presente uma noite libertina. Para tanto, encomenda à cafetina da cidade uma menina virgem. Até ali, fora um homem que não havia experimentado o amor. Atravessou sua existência na locação de mulheres para o sexo. Buscava com isso, já no final da vida, quem sabe, ainda viver a sorte do acidente apropriado para o amor. O amor, isso que no falasser tem função de prótese lírica à não-relação-sexual.
A memória é mulher
Por fim, afastado dessa perspectiva de decrepitude e morte, temos o infausto de Jasão, o personagem mítico do teatro grego, eternizado por Eurípedes.
Jasão, no rastro de outras saias, ao abandonar Medeia, experimenta a dor que nunca cessa de se escrever: a morte de um filho. Ela, devastada, engendra uma vingança cujo cerne contém o magma da escolha absoluta, uma escolha fora da regra civilizacional, divorciada do bem e do belo.
Jasão, incauto, pensava que Medeia pudesse lhe amar como sua mãe o amou.
Não sabia ele que “a memória é mulher. Ela não esquece.”⁵.
¹LACAN, J. O seminário, livro 1: Os escritos técnicos de Freud. (1953-1954) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.
²LACAN, J. O seminário, livro 7: A ética da psicanálise. (1959-1960) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991. p. 276.
³BUARQUE, C. Leite derramado. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2009. p. 10.
⁴MÁRQUEZ, G. G. Memória de minhas putas tristes. Tradução de Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 11.
⁵MOTA, U. Mia Couto e a memória. Blog da Boitempo, 27 nov. 2012. Disponível em: blogdaboitempo.com.br Acesso em: 7 ago. 2024.