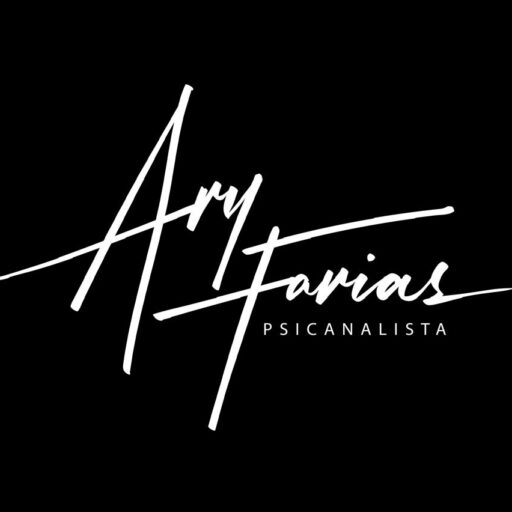Fevereiro 12, 2025
O argonauta das sensações verdadeiras¹
Ary Farias
EBP/AMP
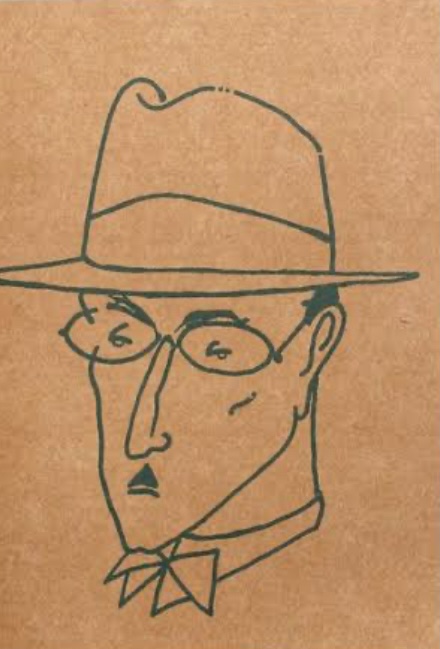
Homo faber
Ganhou estatuto de axioma no continente da psicanálise (tomei a liberdade de expandir na geografia, de país para continente) a premissa segundo a qual o psicanalista nada ou pouco tem a contribuir com o literato. É fato que este, sobretudo o poeta, no seu labor de prestidigitação com a palavra, sempre palmilha antes veredas por onde a psicanálise só chegará bem depois. Freud, ainda em 1907, na leitura do romance Gradiva, de Jensen, já forjara essa construção. Mais tarde, também Lacan teve uma célebre confirmação dessa verdade ao julgar encontrar na literatura de Marguerite Duras aquilo que ele ensinava e, no entanto, ela sabia sem ele.
Essa perspectiva orienta a razão lógica que estrutura o desenvolvimento deste ensaio, que se ancora naquela premissa. Nesse sentido, toda a argumentação teórica por vir deve ser lida, antes, como uma tentativa de alcançar o engenho, o savoir-faire do artesão, do que um movimento teórico com vistas a lançar reguladores, referências, paradigmas ou mesmo um saber estruturado sobre o modo como este produz sua escrita. A literatura é maior que a psicanálise.
Ainda que Lacan, no Seminário 7, tenha afirmado que há um laço radical do sujeito com sua articulação significante², ainda assim toda e qualquer tentativa de inferência, leitura ou interpretação do texto literário deve ter em conta que estamos no campo das aproximações, dos desvelamentos e da surpresa.
Sob a perspectiva psicanalítica, a literatura se efetiva como um modelo insabido de tratamento e regência de gozo; sendo assim, pode e deve prescindir da psicanálise.
No último Congresso da AMP em Paris, Ram Mandil (EBP/AMP) apresentou um trabalho sobre o poeta Fernando Pessoa. “Pessoa, teatro de sombras”, assim ele nominou seu texto onde aborda de modo muito preciso os desdobramentos da poética operados, sobretudo, pelos seus difundidos heterônimos, os “comigos de mim”³ do escritor português. Foi então, a partir dos efeitos dessa intervenção, que foram costuradas as proposições deste trabalho. Não se trata, portanto, de uma análise ou crítica ao texto de Mandil, e sim linhas fraternas, contínuas, que ainda perseveram um pouco mais na visada do processo de produção literária que o poeta operou de maneira insólita na construção de sua obra.
Fernando Pessoa derrama de si outras subjetividades com as quais divide a autoria de sua aguda verve poética. Ele sustenta o prodígio, o assombro de criar uma pequena plêiade em si mesmo. Com isso, desdobra outras vozes e outras sintaxes. Entes dotados de autonomia lírica e diferentes texturas biográficas. O efeito dessa prática é a fundação de um paradigma bastante peculiar no processo de criação e produção poética.
– A autoria partilhada com heterônimos. Dirá mais tarde: “Há mais eus do que eu mesmo. Todavia existo.”⁴
Isso permite pensar que, ainda que esses heterônimos tivessem alcançado individualidades, estilo de expressão e qualidade poética, a organização simbólica desses personagens seguia uma ordenação e funcionamento orbital, ou seja, eles escreviam num campo de força cujo eixo nunca deixou de referir, de algum modo, ao eu do próprio Pessoa. Tal qual um deus errante, cujo centro está em todo lugar e a borda em lugar algum, Fernando Pessoa cria e habita um microcosmo poético, cujo centro preenche com o seu próprio ser. Seus heterônimos são, portanto, satélites de si, na expansão contínua da palavra…
Corpo - Viveiro do Outro
No início era o gozo, tábula rasa. E o gozo estava voltado para a carne.
O corpo ainda sem qualquer captura significante, pura percussão de lalíngua. Só depois, breve, o insondável batismo do S1.
O corpo não precede a palavra. Ela o antecede, fecunda, gesta e põe a termo. O corpo é filho do Outro. Desse modo, não é certo que no parto já nasça um corpo. Parece mais seguro crer que o corpo decorre de um advento. Institui-se como um fato de pertinência antes simbólica do que carnal. Todos nós nascemos numa língua estrangeira, uma língua que a princípio não é nossa, uma vez que somos inseridos num sistema – linguagem – já estruturado pelo Outro. É nesse ambiente que um corpo deve vingar: gameta de letra, plasma de palavra e, por fim, corpo de discurso.
Palimpsesto, memórias borradas, passado vivo, alarido do Outro…
Essa condição sustenta uma perspectiva elementar da clínica de Lacan, de que todo falasser (e, por isso mesmo) deve ser situado, buscado, no advento significante⁵. Tudo o que se desdobra a partir de então deságua diante de nós no isso fala. Um ponto de incoercibilidade necessária na prática clínica.
Essa condição estrutural de anterioridade do Outro repercute efeitos de infecção e colonização no corpo. Vontades e vícios do Outro porejam no corpo do falasser. Desde então, pulsão e desejo são as peças elementares de escambo que sustentam os laços entre os falantes. Os elos fraternos, a ficção erótica e o teatro do amor. Também as guerras, as rupturas, a sordidez e o ódio. Os vendavais, enfim.
Localizado na gênese do corpo, o Outro funda então as operações simbólicas ao mesmo tempo em que organiza e estabelece um tratamento à imagem. Doravante nunca uma imagem sem a conjugação de sentido, tampouco, um símbolo que não convoque uma imagem. Simbólico e imaginário são, portanto, os dois registros de realidade que Lacan logo fez enlaçar a um terceiro – o real. Paradoxalmente, o não registro, o incapturável. Estavam, portanto, estabelecidos os arcos da existência engendrados por Lacan – a trindade RSI. Sem dúvida, um avanço nas anotações de Freud. Mais tarde, esse engenho teórico ainda precisou de um elo aditivo. Um quarto elemento que pudesse oferecer grafia ao estilo como cada falasser, no modo agramatical do gozo, se organizava no ornamento do real. Lacan adicionou então o elo Sinthoma. Paradoxalmente, um quarto elemento que retroage e funda o Um. O unissingular, essa marca d’água que reluz ao final de uma análise ou, sem que se saiba, na criação do artista genuíno.
Na relação com a sua obra, o artista funda um leito para o gozo, fazendo afluir sua potência nefasta para os canteiros da criação estética.
No caso da literatura, sobretudo da poesia, esse efeito se daria no deslocamento do vocábulo de seus descaminhos e da sonolência das jaulas normativas, para fazê-lo ressoar lalíngua e seus detritos no artefato da palavra justa, aquela que efetivamente diz.
Diz do gozo, a religião incontestável do corpo vivo, confessado pelo poeta: “Fiel, sem que queira, àquele erro pelo qual sou proscrito.”⁶ Ele não se engana, sabe da presença constante do semblante, da sua função de defesa frente ao real, sabe que “todas as coisas são, em verdade, excessivas / E toda a realidade é um excesso, uma violência, / Uma alucinação extraordinariamente nítida.”⁷
Se a vida não conhece o fim, um corpo sim, sempre! A vida se replica ad aeternum em múltiplos sistemas, variados ambientes e infinitas contingências. Um corpo, ao contrário, se inscreve no tempo, habita o provisório, flerta com a finitude. “Viver é não conseguir.”⁸
Afastado da linearidade biológica, o corpo do falasser é uma valise de pulsões, não-todo inscrito nas bulas genéricas que bem leem o organismo. O corpo do falasser furta-se da universalidade. Ao contrário, acolhe em si as repercussões próprias da sua aldeia, sua linhagem simbólica, seus totens, suas referências sacras, seus modos sexuais, seus recalques, enfim, seus modos de uso e laço. Resta algo de paroquial no corpo, apesar da globalização e da cultura de massa.
Nesse sentido, o corpo é sempre um artefato de seu tempo, um sintoma contemporâneo, um ente político. É forjado nos instantâneos culturais que regem a realidade que habita. Realidade que o poeta bem capturou na teia dos semblantes como sendo “a cinematografia das horas representadas / por atores de convenções e poses determinadas”⁹.
Cabe lembrar aqui a exigência de Lacan, nos Escritos, de que o analista sempre esteja à altura de seu tempo, a subjetividade de sua época. “Que ele conheça bem a espiral a que arrasta sua época na obra contínua de Babel, e que conheça sua função de intérprete na discórdia das línguas.”¹⁰
Devastação lírica
O homem é um animal literário, uma vez que sua relação com o corpo próprio se dá, necessariamente, sob a égide do significante. Porém, antes mesmo da temperança significante, esse corpo ressoava gozo nos jogos sonoros de pura materialidade fonética, naquilo que temos por lalíngua. Pura vibração fonética, sem função de comunicação ou laço. Um corpo que ainda não opera no verbo, no entanto, experimenta a ação do gozo, num ensaio, do que poderíamos supor, de gozo hermético. Um corpo voragem, só núcleo, sem periferia e ainda sem notícias do Outro.
O artista, sobretudo o poeta, tem, por efeito de sua ciência, de manejar a existência em seu núcleo de mistério e desgoverno. Busca compor a perplexidade, tocá-la com a palavra. Seu fazer, não raro, traz à tona uma subjetividade atormentada pela busca constante de escrever o inefável. Faz disso a sua causa.
Fernando Pessoa, o homem, carregava essa febre no corpo.
Na sanha da palavra, outro fazer não teve, senão a de artesão. Construiu com sua poética um documento testemunhal que expressa o modo pelo qual vivenciou o atravessamento do corpo pela palavra. Revela detritos da ressonância de lalíngua, de como esta ravinou a carne em seus efeitos de gozo. Desdobra-se daí também o modo como fundou esse saber singular que tomamos por Sinthoma, ou seja, um tratamento dado ao gozo cujo modelo cintila antes um domínio insabido, do que um encontro com a ruína. Com sua escrita, Fernando Pessoa bordeja o pior, não sem estilo, talvez com uma rosa nos dentes…
Lacan fez alusão à astúcia estrutural do poeta no seu ofício com a palavra ao relembrar, já no Seminário 2, a fórmula de Rimbaud: “Os poetas, não sabem exatamente o que dizem, como é bem sabido, sempre dizem, no entanto, as coisas antes dos outros – [Eu] é um outro.”¹¹
Ao que parece, desde a infância Fernando Pessoa já experimentara essa necessidade de desdobramento do eu, sendo seu primeiro “conhecido inexistente”¹² um certo Chevalier de Pas, com quem inaugura então uma literatura epistolar infantil. Podemos já localizar aí o preâmbulo daquilo que se constituiria, mais tarde, como marca de sua singularidade na labuta com a palavra escrita – uma poética quase toda sustentada por heterônimos. Pessoa engendrou outros de si, como necessidade autoral, para dar vazão aos jatos de impetuosidade que, em determinados momentos, lhe invadiam a alma. Seus heterônimos, portanto, de algum modo, se articulam como defesas frente ao excesso, uma vez que o recurso plural permitiu escoar aquilo que, de outro modo, poderia ter efeito de invasão, fratura ou desarranjo na identidade do sujeito. Na exilada verdade do corpo e seus acontecimentos, o poeta, por sê-lo, revela um insabido fazer, uma regulação que permite uma justa incidência do Outro ou, pelo menos, uma temperança da angústia. Simbolicamente, ao partejar interlocutores, ecoa um discreto empuxo ao feminino. Oferta deliberadamente o corpo próprio para o florescimento do Outro, frente aos episódios que, com alguma licença poética, podemos nominar de devastação lírica.
Fora da poesia, o homem Fernando Pessoa sempre demonstrou acentuada sensibilidade, ambição intelectual e não raro, através de seus heterônimos, certo pedantismo típico dos homens de gênio. De base, um desassossego, de quem se recusa a uma existência monolítica. Sua escrita “vibroverbera”¹³ esse caos usinado em pura estética.
Esse desassossego também alimentou interesses em matérias várias, que iam da astrologia a vivências de experiências místicas, chegando até pequenas incursões pela psicanálise de Freud e também a psiquiatria. Num dado momento, Pessoa costura até uma pequena patografia lírica de si – “Sou louco, ainda que de modo difícil de conceber”¹⁴.
Interesses e propósitos que, de algum modo, fermentavam seu “esterco metafísico”¹⁵, uma vez que, não raro, encontramos também em sua literatura perspectivas de desamparo e pessimismo. “Falhei a tudo, mas sem galhardias. / Nada fui, nada ousei e nada fiz, / nem colhi nas urtigas dos meus dias / a flor de parecer feliz.”¹⁶
Enfim, Fernando Pessoa, tal qual James Joyce, percorreu seus dias buscando grafar os limites da existência, chegar “lá onde a pena jamais pôs o bico”¹⁷.
“E tudo acaba em nada e verso.”¹⁸
¹ Texto elaborado a partir das ressonâncias do trabalho de Ram Mandil – “Pessoa, teatro de sombras”, apresentado no XIV Congresso da AMP, na plenária Escritores-poetas, em Paris, no dia 25 de fevereiro de 2024.
²LACAN, J. O seminário, livro 7: A ética da psicanálise. (1959-1960) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1988.
³PESSOA, F. Obra poética. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1992. p. 406.
⁴Ibidem.
⁵LACAN, J. O seminário, livro 2: O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. (1954-1955) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.
⁶PESSOA, 1992, op. cit., p. 290.
⁷Ibidem, p. 406.
⁸Ibidem, p. 554.
⁹Ibidem, p. 358.
¹⁰LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p. 322.
¹¹LACAN, 1954-1955/1985, op. cit., p. 14.
¹²ZBRUN, M. Peças soltas da escrita poética. Desassossegos, Revista de Psicanálise de Orientação Lacaniana, Lisboa, n. 1, p. 67, out. 2018.
¹³JOYCE, J. Finnegans wake. 3. ed. rev. Cotia, SP: Editora Ateliê Editorial, 2022.
¹⁴PESSOA, 1992, op. cit., p. 362.
¹⁵Ibidem, p. 380.
¹⁶Ibidem, p. 548.
¹⁷JOYCE, 2022, op. cit., p. 429.
¹⁸ PESSOA, 1992, op. cit., p. 562.