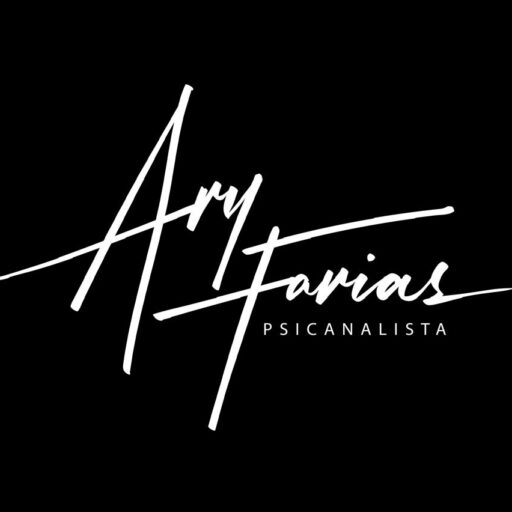Fevereiro 3, 2025
O homem dos lobos e James Joyce
— simetrias dissonantes—
Ary Farias
EBP/AMP
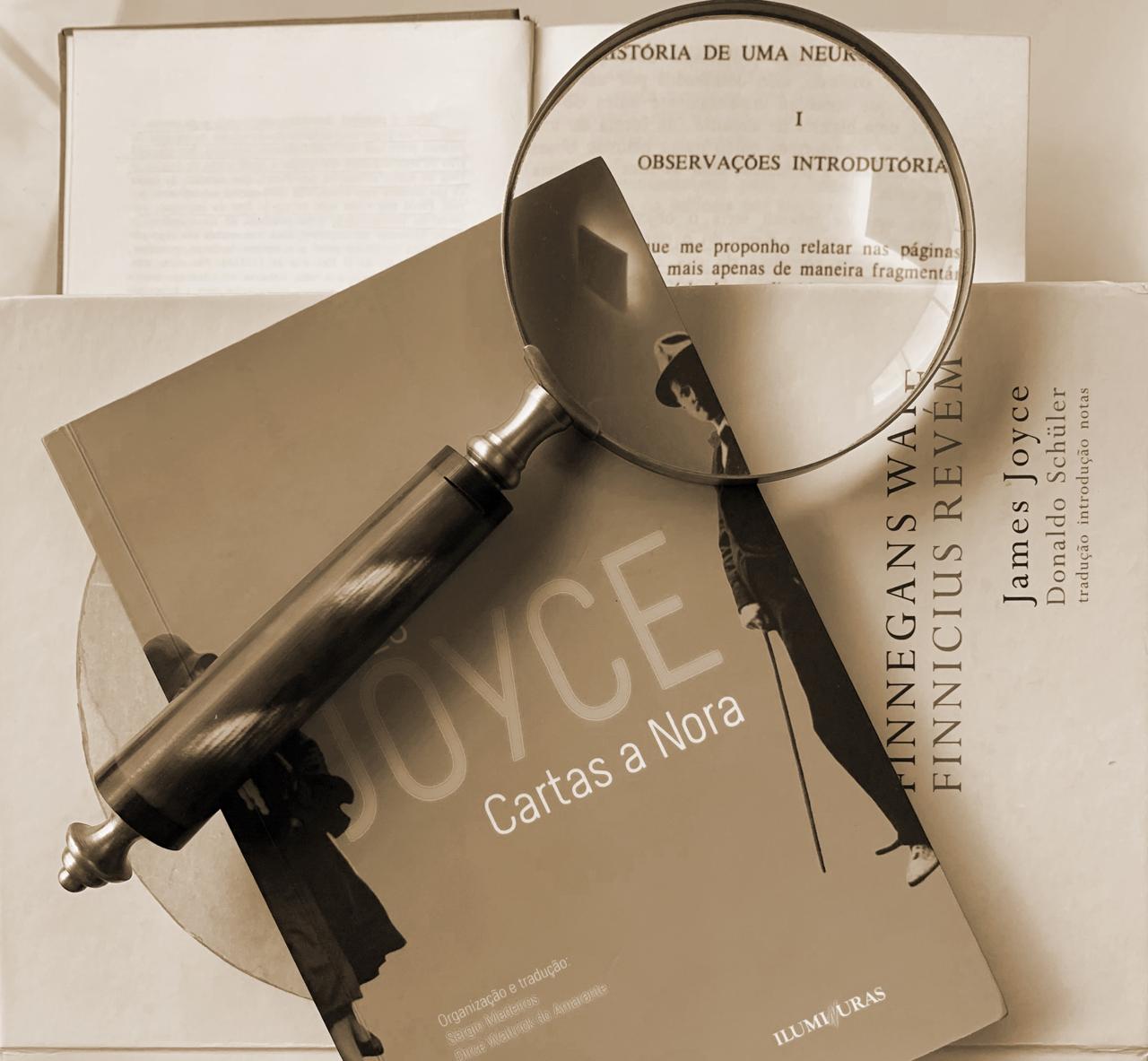
1. Ensaios de aproximação
Ao propor este desafio argumentativo de analogia casuística entre Serguei Pankejeff e James Joyce, cabe informar, este ensaio se orienta e se ancora nas referências teóricas e clínicas de Sigmund Freud e Jacques Lacan.
O primeiro deles, Pankejeff, permitiu a Freud compor um dos casos clínicos considerados mais emblemáticos da psicanálise. A “História de uma neurose infantil’” se consolidou na literatura psicanalítica e acabou sendo mais conhecida como “O Homem dos lobos”. Esse texto figurou dentre os textos clássicos da casuística freudiana ao lado de casos como Schreber, Dora, Homem dos ratos e o Pequeno Hans. À exceção de Schreber, todos, de algum modo, foram tratados de Freud.
Noutra perspectiva, temos James Joyce, escritor irlandês cuja literatura insólita sacode as teorias de investigação literária ao romper com os paradigmas da produção formal e se construir nos limites do absurdo. Joyce toma o nonsense por método ao grafar a sua literatura onírica na dispensa das formalidades ortográficas e sintáticas. Esse novo estatuto de relação com a palavra foi ponto de interseção com a psicanálise e o ensino de Lacan. Ainda que Lacan tenha se interessado por Joyce, há evidências de que isso não repercutiu reciprocidade; ao contrário, Joyce não só recusou a psicanálise, como também lhe dispensou um certo desprestígio. O breve encontro com Jung, por conta da doença da filha, não foi capaz de dissuadi-lo dessa posição. Portanto, nunca chegou a se colocar na condição de analisante. Ainda assim, Lacan não se demoveu do interesse por sua obra e alguma coisa da sua biografia. Mesmo sem ter sido construído pela via do divã, Joyce se tornou, através de sua literatura, uma referência indispensável para Lacan, sobretudo naquele período denominado ultimíssimo ensino.
Lacan, ao trazer a literatura de Joyce para o seio analítico, como se sabe, não inaugura a interseção entre literatura e psicanálise. Essa proeza já havia sido praticada por Freud ainda nos primórdios da psicanálise. Em 1907, no texto “Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen”, podemos localizar a primeira experiência efetiva de incisões psicanalíticas no ambiente literário. Foi a partir da análise desse ensaio que Freud importou a metáfora da arqueologia à função do analista. Voltaria a essa prática em 1911, quando publicou “Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de paranoia”, um estudo cuidadoso sobre o livro autobiográfico de Daniel Schreber, Memória de um doente dos nervos.
No que os reúne – Pankejeff e Joyce –, podemos encontrar o fato de que ambos se constituíram, cada um em seu tempo e a seu modo, em marcos importantes no estabelecimento e avanço da literatura psicanalítica. O que os assemelha, portanto, podemos localizar no fato de ambos se constituírem como subjetividades não plenamente capturadas pelo crivo das estruturas clínicas corroboradas pelo método psicanalítico. Nesse sentido, o Homem dos lobos e Joyce, ocupam, por assim dizer, expressões clínicas fronteiriças ou não definitivamente estabelecidas dentro do arcabouço teórico psicanalítico. É certo, no entanto, que essa perspectiva inacabada não institui uma possibilidade trans-estrutural, uma vez que a clínica das estruturas reflete uma modalidade de tratamento do gozo, uma cartografia libidinal e os modos de uso do corpo. Desse modo, estrutura em psicanálise constitui a marca d’água de um gozo que não cessa de se escrever. Portanto, estabilidades flutuantes que se inscrevem enquanto bula de corpo ou modelo de gestão de gozo.
No caso do Homem dos lobos, acompanhamos a saga clínica empreendida por Freud na recomposição das memórias e imagens do sujeito, numa retroação profunda e detalhada ao passado. Freud, ao recolher e compilar esses fragmentos de memória, devolve ao sujeito novas perspectivas e possibilidades de se recontar. Abolido alguns recalques, efeito dessa labuta de arqueologia mnemônica, o sujeito pôde então acessar vivências radicalmente retroagidas ao próprio passado, podendo mesmo chegar ao seu núcleo, ali onde não-tudo é significante e significado, na vazante da imagem primária do sujeito: a cena sexual dos pais, na recôndita primeira infância. Esse percurso retroativo não se deu, deve-se admitir, sem que a memória fosse, em alguma medida, socorrida pela fantasia. Muito cedo, a psicanálise nos advertiu da consubstancialidade existente entre fantasia e memória.
Em Joyce, a investigação analítica ocorre, poderíamos dizer, via preposta ou indireta. Contrário ao movimento de retroação e busca, o acesso ao inconsciente será pela via da escrita, ou seja, as peças literárias ofertadas a céu aberto pelo sujeito. Se no Homem dos lobos podemos nos apoiar no paradigma metafórico da escavação, em Joyce o modelo de acesso seria o tropeço com o que se apresenta à superfície. No meio do caminho tinha uma pedra. Joyce eclodia seu verbo insano na fatigada rotina da letra colonizada pelo sentido, inaugurando, desse modo, uma trégua insólita entre o significante e o significado. Essa singularidade literária, em que o sentido é demovido de ser a função referencial, promove, por efeito, a babel do fonema na orgia dos sons. Joyce irá musicar a lógica com sua algaravia literária. Um tambor no silêncio do impossível. Lacan, bem logo percebe que essa maneira singular de dar tratamento à letra e à palavra constituía o engenhoso ofício de gozo instituído pelo falasser: letras de gozo.
Essa analogia preambular permite cotejar manejos conceituais distintos, no sentido de estabelecer os parâmetros clínicos de cada caso e as categorias lógicas que daí decorrem. Há que se lembrar que a lógica aludida aqui se trata da lógica do inconsciente, logo, não progressiva ou justaposta como seria de se esperar na lógica racional. No inconsciente, como se sabe, o vigor da eclosão está justamente na fratura, na distância entre o ato e o que efetivamente se pode compreender de sua motivação após a suspensão do recalque, que vela seu verdadeiro sentido. O trabalho com o inconsciente permite alocar sentido justamente ali onde antes vigorava o ato falho, o lapso, a incongruência ou mesmo o vazio. Freud fez aparecer o mecanismo elementar do sintoma ao desvelar seu estatuto de nódulo de sentido rechaçado pelo eu. Essa descoberta, alçada à condição de axioma analítico, permitiu a Freud estabelecer que o método inaugurado por ele fosse uma experiência fundamentalmente de linguagem. Freud refunda a palavra no eixo da existência do sujeito; daí a sustentação ao que, posteriormente, Lacan denominou como sendo o falasser.
2. Gozo e Sinthoma
O caso do Homem dos lobos se estruturou teoricamente na literatura analítica inicialmente como sendo a apresentação de uma neurose infantil. É bem verdade que se trata de uma neurose infantil extemporânea, uma vez que as construções em análise, o discurso que foi efetivamente acolhido pela escuta de Freud não se deu, cronologicamente, durante os anos da infância do sujeito. Portanto, o que se estrutura por discurso, nesse caso, decorre mais das lembranças organizadas do que das vivências referidas ao presente. Logo, o que Freud efetivamente estabelece do caso resulta da vertiginosa viagem empreendida aos confins da memória do sujeito. Isso retrata o fato de que, em alguma medida, no psiquismo, fato e memória se coadunam no constante acidente, na constante síntese que tomamos por ego. Sabe-se, pela oficina dos poetas e dos literatos, que nossas memórias, neuróticas ou não, resultam da composição entre a imagem e o significante, compondo o acervo mnemônico do falasser e estruturando sua mitologia individual, sua filosofia de bolso. Nesse tear de imagem e significante, o falasser compõe sua crônica, seus romances, com os quais buscará responder às demandas do Outro. Em certa medida, a memória é sempre infantil, uma vez que manejamos memórias inventadas.
Abordado por Freud numa perspectiva de neurose obsessiva, o caso do Homem dos lobos nunca deixou de receber releituras, numa exegese que já ultrapassa um século. Nisso, naturalmente outras possibilidades de condução clínica e visada estrutural foram propostas ou aventadas. Na clínica atual, discute-se a possibilidade de que Serguei Pankejeff pudesse ter sido melhor lido na perspectiva da psicose ordinária, um recurso conceitual delicado e importante com que hoje nos servimos na clínica analítica. Essa expressão, advinda de Miller, aprimora a captura e compreensão clínica daqueles sujeitos cuja psicose não encontra seu desenlace e corroboração nos episódios dos grandes desarranjos subjetivos. O vocábulo ‘ordinário’ ampara o silêncio e a discrição comportamental desses sujeitos, cuja efervescência imaginária encontra seu balaústre, seu dique, no ronronar de um cotidiano meticulosamente comprometido com a repetição. De algum modo, esses sujeitos forjam seus frágeis abrigos simbólicos, não raro, na manutenção de uma rotina de ferro, não poucas vezes lida como introversão ou mesmo uma disciplina da solidão. Na proposição dessa expressão – psicose ordinária –, Miller oferece três discretos crivos de leitura para auxiliar na localização desses casos. Sugere que se busque pequenos resíduos dessas disjunções nas externalidades social, corporal ou subjetiva. Isso que Miller assinalou como uma “desordem na junção do sentimento mais íntimo da vida”. Capturar algo dessa desordem requer um esclarecimento teórico e uma escuta delicada por parte do analista. Na aplicação dessa perspectiva no caso Pankejeff, podemos inferir algo dessa desordem na debilidade da significação fálica observada em muitos momentos do relato do caso. Isso se torna muito evidente, por exemplo, ao se voltar a atenção para as relações do sujeito com as mulheres. Não seria leviano inferir que seu endereçamento quantitativo às mulheres pudesse ser um recurso compensatório ante uma debilidade viril inconsciente. Assim, encobre-se a inconsistência com o múltiplo e o plural. Cabe lembrar que um dos motivos que o levaram a procurar Freud foi justamente a questão da doença venérea. Portanto, repercussões desse superlativo sexual. Cabe também a atualização retroativa de que estamos abordando uma referência de padrão sexual do início do século XX. Esse episódio de IST assinala o padrão de revés que o sujeito manteve ao longo da vida com seu sexo e sua sexuação. Sustentou uma rotina heterossexual cujo pano de fundo foi sempre assombrado por uma fantasia de passividade, herança mnemônica remota nunca totalmente desconstruída como efeito da cena sexual primária com os pais e, posteriormente, o sonho com os lobos. Por fim, os elementos dessa crônica compõem a história desse sujeito dotado de um corpo masculino e os embaraços do compromisso moral de ter que se endereçar ao feminino.
Por outro lado, Lacan ao se enveredar por Joyce, sobretudo sua última literatura, o vertiginoso Finnegans Wake, irá então se deparar com a “superexuberabundância” das possibilidades não só das fusões idiomáticas, como também a experiência inédita e radical com a desmaterialização da língua enquanto função de laço e sentido. Joyce se consome durante dezessete anos na desconstrução da escrita tradicionalmente ordenada pelo Outro. Imprime uma linguagem própria, cuja singularidade inaugura uma sintaxe divorciada do compromisso de construção de sentido e intenção de laço, dando luz a um texto obscuro, movediço. Letras de puro gozo.
Finnegans Wake é, provavelmente, a obra literária que mais sofre abandono dos seus leitores, visto que dificilmente pode ser enfrentada sem o apoio em leituras extrínsecas, preambulares. Trata-se de um romance labiríntico, soterrado pelo não-sentido, ambientado pelo absurdo. Nenhuma outra literatura se aproximou mais da realidade e estrutura do inconsciente do que Finnegans Wake. Nele Joyce produz uma composição textual só compatível com o que poderíamos esperar de uma crônica onírica, alforriada das peias do sentido, onde verificamos sem escândalo o matrimônio dos inconciliáveis e a fraternidade dos extremos, numa composição simbólica e imagética que desconhece as fronteiras da razão compartilhada. Enfim, o enfrentamento na leitura de Finnegans Wake corresponde a consentir uma odisseia sonora, “auriculovisual”, tomando emprestado um dos milhares de vocábulos transgênicos de Joyce. Uma leitura que, se efetivada, necessariamente, ocorrerá no colapso da gramática. Ali, fonologia, morfologia e sintaxe se embriagam tal qual Tim Finnegan, o pedreiro e alcoolista inveterado da trama absurda.
Será somente no que foi compilado no livro 23, O Sinthoma, que Lacan irá se debruçar sobre a insólita literatura de Joyce. Articulará, então, os possíveis efeitos da sua literatura na função de amarração dos registros real / simbólico / imaginário – RSI. Logo, a literatura de Joyce teria por função não deliberada e efeito não sabido ocupar o quarto elo na amarração desses registros, justamente o elo tido por singular de cada um – o sinthoma. Esse passo importante na construção teórica de Lacan permitiu dar expressão à invulgar relação do falasser com a língua, com seu corpo, o Outro e o gozo. Lacan se servirá da desmesura literária de Joyce para ilustrar um fazer, cuja função, revela um expediente de gozo moderado pela injunção de significantes desassossegados da rotina. Uma grafia do sinthoma com as vívidas tintas do gozo.
3. Loucura ou Psicose?
Preambular a essa questão − para poder validá-la de algum modo −, cabe lembrar que se parte do pressuposto de que não estamos tratando a loucura como um sinônimo plenamente acoplado ao vocábulo psicose.
No caso do Homem dos lobos, a questão nuclear gira em torno da castração e a efetivação da inscrição fálica. Como desdobramento dessa questão, por efeito das constantes releituras, erige-se então outras possibilidades de enquadre e perspectiva teórica. O próprio Lacan, ao retomar o texto freudiano, faz as primeiras alusões fora da neurose obsessiva na leitura do Homem dos lobos. Não foi o primeiro, é verdade, uma vez que a analista que seguiu com a análise de Pankejeff, após a interrupção da análise com Freud, já havia feito alusão a uma possível paranoia.
Miller, ao reler o caso, já na perspectiva do ultimíssimo ensino de Lacan, apoiou-se na expressão ‘psicose ordinária’. Ainda assim, não há evidências conclusivas no caso que possam sustentar de maneira cabal essa proposição. Mesmo Freud, segundo Miller, não chegou ao final do seu relato ancorado num diagnóstico impassível do caso. De um lado, havia o recalque da identificação com a mulher e a fobia do lobo. De outro, pode-se admitir uma foraclusão da castração, tendo como consequência uma identificação de fundo com o feminino, que nunca chegou a ser desconstruído de fato. Talvez possamos aqui encontrar um apoio para a explicação da “virilidade de semblante” notada na movimentada vida afetiva de Pankejeff. Como se sabe, este abafava suas fantasias de passividade no consumo ativo de mulheres e casos de amor.
Um século após sua publicação, o caso do Homem dos lobos ainda enseja adendos de leitura por parte da comunidade analítica. Inúmeras questões ainda pululam em torno do caso e ainda o fazem falar. Questões que orbitam a castração, a foraclusão do Nome-do-pai (P0) e não inscrição fálica (Φ0), as fantasias de passividade e homossexualidade latente, neurose obsessiva e psicose ordinária; enfim, por se tratar de caso angular da literatura analítica, sempre oferecerá um ponto de vacilo ou surpresa que pede reflexão.
No que se refere a James Joyce, a torção lógica e o desmonte racional que sua literatura faz emergir nos remetem com certa naturalidade a uma analogia com o que se convencionou estabelecer como sendo o inconsciente. Joyce produz uma literatura puramente do significante, inserindo o leitor numa densa floresta sonora. Esse descalabro na escrita praticamente faz eco à lalíngua de cada um. Noutra vertente, permitiu ao sujeito (Joyce) levantar uma morada possível na literatura, um ponto de ancoragem à provável algaravia das pulsões desamparadas que, como ondas, nunca deixaram de varrer a areia de sua carne.
Em suma, Serguei Pankejeff e James Joyce, dois importantes personagens da crônica psicanalítica, sustentam paradigmas ainda atuais e sobretudo instrutivos sobre a singularidade de cada um no tratamento dos impasses relativos ao próprio gozo, traduzindo a vertigem de, na linguagem, filiar o corpo à fala.
Na orla da psicose, cada qual se arranjou como pôde em sua loucura.